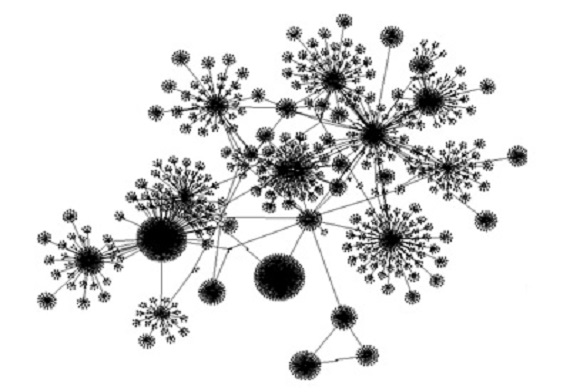Dados do último Censo GIFE revelam que 43% dos Institutos e Fundações declaram predomínio na execução de seus próprios programas, em contraponto a 16% que declaram preferência pela doação direta a OSCs (‘grantmakers’), intercalados por outros 41% que atuam de forma híbrida (executam programas próprios e doam).
Deixando de lado, o ‘certo ou errado’, vamos tentar compreender este quadro. Portanto, o esforço aqui é de constatação e reflexão, não de julgamento. Há uma clara preferência pela execução própria (seja de forma integral seja de forma parcial) em detrimento à doação de recursos para OSCs e causas.
Este quadro vem se mantendo ao longo do tempo ou há uma tendência de alteração no horizonte?
Recuperando os dados dos últimos censos do GIFE é possível construir um quadro que evidencia como este dado vem se expressando ao longo da última década, possibilitando construir uma visão de mais longo prazo sobre este fenômeno.
Antes de recuperar a série histórica, vale dar um passo atrás para trazer à tona algumas questões que têm permeado este debate na atualidade.
Por que institutos e fundações, no Brasil, preferem executar os próprios programas ao invés de doar recursos à OSCs e causas?
Vamos tentar explorar as possíveis causas que nos ajudam a entender esta ‘fotografia’, mas seria igualmente importante pontuar outra questão relevante, anterior a esta.
Qual seria o real propósito de institutos e fundações no Brasil?
Se a narrativa que mais se ouve a respeito deste propósito estiver correta (e creio que sim), há certo consenso de que institutos e fundações, no Brasil, têm o proposito de contribuir para o fortalecimento da sociedade civil.
Alguns poderiam ainda, acrescentar neste enunciado – uma sociedade civil plural, vibrante, articulada, e por aí vai.
Assumindo que a síntese do enunciado esteja correta e de que ela reúne certo consenso no setor do ISP, então nos faz sentido partir para uma segunda questão igualmente relevante: “como contribuir para o fortalecimento da sociedade civil”?
Me parece que aqui – no ‘como’ – é que temos mais divergências de opiniões entre institutos e fundações. É aqui que conseguimos retomar a pergunta chave deste artigo, pois, alguns institutos e fundações podem ‘jurar de pés juntos’ que contribuem para o fortalecimento da sociedade civil por meio da execução de seus próprios programas, enquanto que outros são convictos ao afirmar que fortalecem doando a OSCs e causas.
Novamente, sem partirmos para ‘certo’ ou ‘errado’, a reflexão aqui se propõe a colocarmos uma lupa nesta questão para aprofundarmos seu entendimento.
O que a fotografia nos mostra hoje e há uma década?
Recuperando os dados das edições anteriores do Censo GIFE (2016, 2014, 2012, 2010, 2008) observa-se este fenômeno a partir da seguinte ótica:
| Estratégia de atuação de Institutos e Fundações | |||
| Ano base (Censo GIFE) | Predominantemente executor (dos próprios programas) | Híbrido | Predominantemente doador |
| 2016 | 43% | 41% | 16% |
| 2014 | 37% | 45% | 18% |
| 2012 | 32% | 52% | 15% |
| 2010 | 59% | * | 19% |
| 2008 | 39% | 41% | 20% |
| Média | 42% | 44,7% | 17,6% |
*OBS: o dado de 2010 da coluna ‘híbrido’ está apresentado de forma diferente dos demais (separado dos custos administrativos, o que nos fez retirá-lo do quadro).
Observando os dados das séries históricas e a média, nota-se que há pouca alteração na estratégia de atuação de institutos e fundações ao longo da última década. A média dos últimos anos é bastante similar aos dados do último censo (2016), evidenciando que a ‘fotografia’ nos revela a preferência pela operação direta (predominantemente) seguido pelo modelo híbrido (operação direta combinada com doação). Nota-se também que o perfil predominantemente doador é, na última década, o de menor percentual. As variações capturadas no quadro são mais presentes entre as colunas da esquerda (executor) e a do meio (híbrido) e bem menor na coluna da direita (doador).
Em suma: a fotografia segue no mesmo padrão ao longo da década – 2008 – 2018 – mantendo num patamar sempre abaixo dos 20% o predomínio à doação direta. As variações percebidas ocorrem entre os flancos de execução direta e a atuação híbrida. Essa constatação já nos permite inferir que há uma clara preferência mais histórica pela execução (direta e/ou híbrida) em detrimento à doação.
Porque seguir apostando na execução?
Feita esta constatação, é preciso então questionar as razões pelas quais institutos e fundações seguem apostando na execução direta (e/ou no modelo híbrido)?
Nota-se que na última década a opção pelo predomínio na execução direta vem sendo a estratégia de atuação mais presente entre institutos e fundações associados ao GIFE, e teve pouca alteração relevante no período[2].
Porque esta preferência segue pouco alterada ao longo da última década?
Procurei identificar hipóteses possíveis que, isoladamente ou em conjunto, nos ajudam a compreender o fenômeno. Elas estão longe de esgotar este debate, e cumprem aqui um papel de mero disparadores da reflexão, a qual, temos feito com menos frequência do que poderíamos no campo.
Espelho retrovisor
O efeito ‘piloto automático’ tem íntima proximidade com a presença marcante de institutos e fundações corporativas na rede. Afinal, temos certa aversão ao risco neste segmento, e, desta forma, tendemos a preferir não mexer em ‘time que esteja ganhando’, ainda que não tenhamos questionado qual time está ‘ganhando’ e o que significa ‘ganhar’ neste contexto.
Portanto, o que nos trouxe até aqui nos dias atuais não pressupõe, necessariamente, que nos guiará até um novo horizonte. Desta forma, este argumento não se mostra muito convincente no tempo atual.
Modus operandi
Pouco discutimos sobre as formas como estamos acostumados a operar. O ‘como’ parece ser um item de segunda categoria em nossas reflexões.
O ‘como’ que parece predominar aqui na nossa conversa guarda relação íntima com o ambiente corporativo, o qual fala uma língua própria (diferente muitas vezes das próprias fundações e das OSCs); se relaciona num timing bastante acelerado (bem diferentes do terceiro setor e do governo) e procura zelar com afinco as marcas envolvidas.
Considerando estas variáveis, estaríamos alimentando certa ‘seleção natural’ junto a OSCs parceiras e potencialmente parceiras ao preferirmos aquelas que já manejam com melhor propriedade modus operandi do mundo corporativo (linguagem, timing, etc). OSCs que estejam mais distantes deste universo, tendem a ficar mais distantes da oportunidade de ‘jogar este jogo’ – algo que precisa ser mais bem debatido no setor.
Com este modelo mental, não estaríamos acirrando ainda mais este tipo de exclusão ao preferimos aquelas organizações que já façam parte da ‘panela’?
Em busca de fornecedores sociais
Institutos e Fundações corporativos tendem a procurar por ‘fornecedores’ que possam apoiá-los na execução de seus próprios programas e/ou no enfrentamento de desafios sociais/ambientais locais.
Ocorre que, em geral, estes territórios mais distantes dos grandes centros urbanos contam com uma oferta bem menos generosa de players locais aptos a estabelecerem plenas relações com institutos e fundações. Como visto anteriormente, eles seriam os de ‘fora da panela’.
Neste sentido, como apoiar seu desenvolvimento e fortalecimento para que, de um lado, se tornem fornecedores das ‘dores’ e demandas de institutos, fundações e empresas e, de outro, se fortaleçam como organizações da sociedade civil? Esta é, sem dúvida, uma boa reflexão.
Evidente, que esta opção (de desenvolver fornecedores locais) demanda mais tempo e pode comprometer eventuais resultados de curto prazo.
Dilemas na forma de contratar
Em geral, institutos e fundações tendem a contratar parceiros e fornecedores para execução de seus programas e para a resolução de situações e ‘dores’ locais. O dilema reside no fato de, se o nosso propósito como setor é fortalecer a sociedade civil, estaríamos também contribuindo para o fortalecimento deste parceiro/fornecedor? Ou, sem nos darmos conta, estaríamos ‘espremendo’ esta organização?
Estaríamos reproduzindo a lógica de apoio a projetos, restringindo a possibilidade de rubricas ‘meio’ e priorizando rubricas ‘fins’?
Creio que temos aí outra boa reflexão a ser feita, em especial, em conjunto com estas organizações parceiras. Tendemos a pensar nas nossas ‘dores’, mas quais são as ‘dores’ destes parceiros?
Preferência pelos de sempre
Institutos e fundações já possuem seus fornecedores e parceiros de preferência. Isso é natural em qualquer organização. Temos confiança nas relações, nas entregas, gostamos da forma como nos relacionamos e por aí vai.
Assim, tendemos a preferir contratar parceiros já ‘de casa’ e deslocá-los de suas bases (leia-se São Paulo) para atuarem em territórios de interesse da empresa, de institutos e fundações. Essa estratégia resolve a ‘dor’ no curto prazo, pois coloca em cena um fornecedor competente para resolver a questão local. Mas, por outro lado, não contribui para fortalecer e desenvolver organizações locais para que elas próprias consigam ‘jogar este jogo’. Além disso, pode gerar certo desconforto entre as próprias organizações – as de fora com as do território – algo que precisará ser gerido pelo instituto ou fundação.
O dilema da entrega de curto prazo
Como entregar resultados de curto prazo sem contar com os próprios programas e/ou com os próprios parceiros e fornecedores?
Este talvez seja um dos grandes dilemas para institutos e fundações, sobretudo os corporativos. Equilibrar o curto com o médio/longo prazo.
Ao assumir a execução direta, assume-se também certa capacidade de prever o alcance dos resultados de curto prazo. Vale lembrar que boa parte dos institutos e fundações corporativos lidam com lógicas anuais de orçamento, o qual provêm das respectivas empresas mantenedoras. Assim, caso não seja possível ‘entregar’ resultados mais tangíveis, menor será a chance de aprovar novos aportes orçamentários.
Ao optar pelo apoio a OSCs e causas, institutos e fundações estariam perdendo, assim, a capacidade de controle e de obter resultados de curto prazo? Estariam, desta forma, criando dificuldades de aprovarem seus próprios orçamentos junto à suas mantenedoras?
Como construir uma estratégia de apoio à OSCs e causas sem perder estas questões?
É preciso estar no controle
Talvez seja o maior argumento ouvido no universo dos institutos e fundações corporativas – é preciso zelar por uma marca, pela reputação da organização e, portanto, é preciso estar no controle/comando/gestão dos projetos.
Nesta lógica, só o caminho da execução direta é que seria a forma de ‘dar a palavra final’ e de assegurar um eventual ‘mal uso’ da marca ou um desvirtuamento dos rumos do projeto.
Compreendo perfeitamente este mindset pois vivo ele no meu dia a dia. Mas ultimamente tenho me questionado se esta necessidade de estar no controle seria tão incompatível assim com a não execução direta de programas.
Talvez a pergunta que fique é: como seguir no ‘controle’ abrindo mão (ou diluindo) a execução direta?
Isso requer mudança de habilidades de nossas equipes e a revisão/adoção de novas ferramentas. Estamos abertos e preparados para isso?
Porque não atuar como a acupuntura?
O título deste texto (Por que executar os próprios programas?) nos provoca a sair do piloto automático e a repensar nossas estratégias de atuação. Como vimos, o tema é complexo e pressupõe mais espaços de reflexão e de troca entre pares.
Em síntese, esta reflexão passa, necessariamente, por três dimensões interdependentes:
- Propósito
O foco de atuação de institutos e fundações é o fortalecimento da sociedade civil? Quais são outros focos prioritários? Eles convergem ou conflitam entre si?
Estes propósitos prioritários permitem encaixar diferentes estratégias de atuação ou só cabe neles a execução direta?
A execução direta é a estratégia mais eficaz para o alcance do propósito da nossa organização? Nossa teoria de mudança nos sinaliza para a execução direta como sendo a forma mais estratégica de entregar este resultado?
- Modos operandi
Preferir operar os próprios programas, atuar de forma híbrida ou apenas realizar grantmaking: qual(is) a(s) forma(s) mais estratégica(s) e alinhada(s) ao propósito da organização?
Aqui é importante frisar que vivemos tempos da coexistência de modelos de atuação, o que nos convida a pensarmos de forma mais combinada e menos binária.
Acho que podemos ser mais estratégicos em nossa atuação – potencializando ao máximo as dimensões financeiras e não-financeiras e atuando como uma espécie de “acupuntura” – procurando pontos que, se devidamente estimulados, irradiam efeitos (positivos) ao longo de todo um setor ou ecossistema.
Nem sempre serão os nossos próprios programas (tal como estão concebidos na atualidade) os instrumentos mais estratégicos e eficazes para ativarem estes efeitos em cascata no ecossistema, setor, território e/ou tema que queiramos impactar.
Portanto, a provocação do título deste texto passa também pela forma como nossos próprios programas foram/estão concebidos e como eles vem sendo geridos e implementados. Novamente, o ‘como’ é tão importante quanto o ‘que’.
- Resultados
Relativizar a execução direta pressupõe redesenhar indicadores de resultados – outputs e outcomes. Se somos muito pressionados por resultados de curto prazo, teremos um desafio bem maior de desenhar nossa forma de atuação que seja mais holística e menos de controle direto próprio. Seguindo a analogia da saúde, a opção do curto prazo estaria para a alopatia (remédio) enquanto que a opção de médio/longo prazo estaria para a acupuntura. No mesmo raciocínio perceberíamos que é preciso combinar os dois caminhos e que haverá situações onde um prevalecerá sobre o outro.
A questão fundamental é: estamos dispostos a ‘comprar esta briga’ internamente? Estamos convencidos de que é preciso repensar a forma como demonstramos nossos resultados (e nosso impacto) indo além das métricas vigentes de curto prazo? Essa nova forma para em pé no curto prazo? Ela colocará em risco a própria existência da organização?
Me parece que temos aí questões muito relevantes para serem discutidas e desdobradas.
Nossa estratégia precisa de uma estratégia[3]
Em suma, este seria o debate que precisamos nos propor a fazer com mais frequência. Estaríamos já cristalizados em nossa forma de atuar que sequer nos permitimos questioná-la?
Nossa estratégia já estaria redonda o suficiente para não precisar ser repensada?
Cá com meus botões a sensação é que não apenas não estejamos dispostos a repensar nossa forma de atuar, como não temos a menor ideia por onde podemos começar.
Enquanto isso, lá fora, as correntes marítimas mudaram, as condições atmosféricas mudaram, os instrumentos de navegação mudaram, as pessoas mudaram, os prazos mudaram, os containers mudaram, as rotas mudaram, mas seguimos no nosso transatlântico como se nada tivesse acontecido. Oxalá a gente não perceba que transatlânticos já não sejam mais necessários.
[1] Gerente Executivo do Instituto Sabin (www.institutosabin.org.br). Atualmente coordena a Rede Temática de Negócios de Impacto do Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) em conjunto com o ICE. Membro do Conselho do Gife. É autor do livro “Reflexões contemporâneas sobre Investimento Social Privado”. [email protected]
[2] Vale ressaltar que o esforço de análise aqui não tem cunho estatístico.
[3] Em alusão a este artigo de Martin Reeves, que analisa as mudanças no ambiente de negócios: https://hbr.org/2012/09/your-strategy-needs-a-strategy